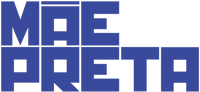Temi Odumosu | Historiadora da Arte e Pesquisadora |
Existe uma carga de/em imagens que eu, aqui, gostaria de revelar.
Os modos como olhamos para os vestígios da escravidão e do colonialismo nos torna dependentes, e mesmo implicados na mesma dor que os trouxeram à tona. A situação é extremamente complexa. No princípio, pessoas escravizadas entraram para a cultura visual como cifras, incorporadas dentro do modelo de conquista e aquisição no modus operandi do poder imperial europeu. No entanto, hoje em dia, tentamos transformá-las em sujeitos plenos para que sejam libertados das estruturas que, historicamente, os aprisionaram. Portanto, prestamos mais atenção: pesquisamos, olhamos, escrevemos, choramos, criticamos, explicamos.
Reproduzimos tipologias e corpos de pessoas anônimas, repetidas vezes, tanto online quanto nos espaços públicos. E fazemos isso sem a permissão dos sujeitos originais. Assim, estamos sempre invocando fantasmas para depois fazer de tudo para apaziguar os mortos, para lhes oferecer um lugar mais honrável – talvez em um livro ou em uma exposição –, uma “memória acolhedora” na qual poderão, enfim, jazer em paz.1 Mas são tantos, são tantos os fantasmas. Criamos até histórias novas, por meio de práticas artísticas e culturais, em uma tentativa de suspender, ainda que temporariamente, os danos causados à humanidade.2
À humanidade africana. Depois disso (e de todo esse esforço), acabamos por nos render, apesar do que sabemos e de como nos sentimos nesse eterno mortuário. De certo modo, a pele das imagens nos nutre, seduzindo o nosso olhar com a esperança de alguma resposta, talvez até a miragem de um membro da família. Nós nos tornamos, tal como o espectador original, um turista visual procurando por propriedade perdida. Nós nos rendemos às imagens, em silêncio.
Mas não acredito que nos rendamos com facilidade. É só que o estresse e o desgaste que, naturalmente, emergem em resposta à violência repetida, são insustentáveis.3 Com o tempo, passamos a aceitar que essas imagens são uma importante ferramenta para o reconhecimento, e a prova irrefutável dos crimes cometidos, e, ainda mais importante, são os sinais da presença negra/africana e indígena que foi negada ou esquecida. Dessa forma, essas imagens europeias que documentam condições de escravidão ganham um novo significado, para assim reconciliar memórias degradadas e de tudo aquilo que desapareceu com o rastro do navio negreiro.4 Portanto, lidamos com esses corpos da mesma forma como os percebemos em obras de arte e fotografias: tensos, capturados, posados e posicionados, fixos e detidos.5 Codificados.
Comecei a repensar meu próprio papel como historiadora da arte dedicada à investigação compulsiva do imaginário colonial. Pessoas africanas (normalmente escravizadas) são o foco de minha atenção. Com base nessa experiência particular, várias vezes me pergunto: o que guarda o futuro? Como continuaremos a conviver e a escrever sobre todas essas imagens emprestadas e roubadas de nossos ancestrais? Por exemplo, como usaremos fotografias coloniais em nossos futuros museus ou filmes documentários? Que papel as obras de arte (pinturas, gravuras, esculturas) terão no desenvolvimento de nossas identidades futuras? E quais serão as consequências de olhar esse material difícil nos próximos cinquenta, ou cem anos?6
A atenção a essas questões será fundamental para o nosso bem-estar.
///
A única forma de demonstrar as dificuldades de olhar para esse material colonial é se eu começar por descrever e depois analisar uma única imagem com cuidado. Como pesquisadora, muitas vezes uso o ato da descrição de uma maneira performativa, para ajudar a retraçar passos e destacar coisas que podem passar despercebidas. Como uma mulher negra, também descrevo para traçar linhas ficcionais (o artifício) contidas nessas imagens. E faço isso para todas nós que nos encontramos “dentro da sala torta” das representações distorcidas tentando “entender qual é a direção correta”.7 A descrição é para fins de clareza. A análise é para o entendimento.
Olhemos juntos para os detalhes de uma fotografia de Georges Leuzinger, intitulada Fazenda de Quititi (c.1865), representando uma pequena lavoura de café e seus habitantes na serra de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. A imagem inquietante é uma encenação da vida rural brasileira ainda sob as garras da escravidão. A paisagem geográfica domina grande parte da foto, com imponentes morros de pedra ao fundo que enquadram uma casa-grande ao centro rodeada por escadas e atalhos. A paisagem representada não é vibrante, nem um idílio exótico “colonizado” e “atemporal”, mas um lugar em degradação e isolado.8 Mesmo em sépia, as árvores e o solo parecem esfarrapados e sobrecarregados. A casa tem janelas quebradas, e as paredes mostram graves sinais de desgaste. Várias cestas de café decoram o chão na parte esquerda da imagem. Em diferentes lugares, roupas e panos estão estendidos para secar. As pessoas na fotografia acentuam ainda mais o clima de desolação. No primeiro plano, sobre o pátio pavimentado, várias figuras estão espalhadas na linha horizontal da composição e em poses diferentes, segundo seu papel nessa comunidade. Dois homens afro-brasileiros ajuntam uma pilha de grãos de café espalhados no chão para secagem. O homem da esquerda pisa descalço no café, concentrado em sua tarefa.

Fazenda de Quititi, Jacarepaguá, Rio de Janeiro
Georges Leuzinger/Coleção Gilberto Ferrez/ Acervo Instituto Moreira Salles
Do lado oposto, à direita, o outro homem varre os grãos para a frente, mas levanta parcialmente sua cabeça como que para olhar para a câmera, embora não possamos ver seus olhos. Talvez esteja em dúvida se está na posição correta. Juntas, as duas longas ferramentas de trabalho criam um formato em V, que espelha o vale retratado na parte superior. Entre eles, no centro da cena, uma mulher afro-brasileira encontra-se de perfil, com a cabeça abaixada e uma criança dormindo amarrada em suas costas, em estilo típico africano. Ela olha para baixo, desfocada, mas imóvel. Simplesmente sendo. À sua frente, um grupo de cinco crianças está sentado no chão por cima de trapos, com ombros curvados, olhando para o chão, sem interagir umas com as outras. Não há nada para fazer ou com que brincar. Em contraste, no lado direito da cena, um menino branco da mesma idade aparece bem-vestido e sentado em um cavalinho de madeira sobre rodinhas.
A criança sabe que está sendo fotografada e posa com seu corpo em direção à câmera. A seu lado, a babá negra permanece em posição de “obediência”, com suas mãos na frente do corpo. Sua cabeça também está abaixada e parece até que seus olhos estão fechados. Ao fundo dessa constelação de figuras, perto da casa, duas mulheres brancas, com roupas formais, aparecem como acessórios da composição. Uma delas, que se encontra de pé na base da escada à direita, segura o corrimão e olha para baixo de maneira contemplativa. A segunda mulher, à esquerda, aparece em movimento, andando em direção à casa, mas parece ter mudado de posição para ser vista de perfil. A fotografia captou seu movimento, o que significa que ela aparece duas vezes, seguida de seu fantasma, que continua até sair de cena.
Não tenho dúvidas de que Leuzinger encenou essa composição para ser vista por observadores em outro contexto. Mas o que pretendia transmitir sobre essa fazenda em Quititi? Cada corpo representado ali parece estar sozinho, embora sejam interdependentes. Essas figuras, e esse espaço, não estão ali para nos acolher para dentro da imagem, mas apenas para demonstrar sua função. Nesse sentido, por que a ama negra aparece como um personagem central da cena? O que ela representa? Como ela ressoa na foto e para além dela? Acredito que, no sentido literal, a figura da “mãe preta” incorpora a esperança de continuidade: seu laboro reprodutivo fará com que a terra e o país sejam férteis. A “mãe preta” gera a vida e cuida dela. Ela nutre a terra, depois a cultiva. As crianças no chão ao seu redor representam os frutos de seu trabalho. São apresentadas como o produto de encontros íntimos com homens afro-brasileiros, cuja energia fálica é ali representada, de modo simbólico, pelas longas ferramentas que usam no trabalho – cuja leitura atual se concentra no trabalho manual. O grupo isolado de cinco crianças é a nova força de trabalho à espera da maturidade, assim como os grãos de café estão à espera da moagem. Na imagem, elas já são “vigiadas” pela criança branca montada em um cavalo de brinquedo, que, com o tempo, provavelmente se tornará seu senhor. O menino carrega o poder estrutural, e o legado da herança colonial. Entretanto, é a “mãe preta” que exerce o poder reprodutivo. Sem ela e seus filhos, a terra estaria coberta de vegetação selvagem que, por fim, devoraria a colheita.
///
Uma fotografia, mesmo que alegue ter uma função documental, nunca é inocente. Apesar dos progressos na tecnologia fotográfica na década de 1860, os sujeitos ainda precisavam parar e posar para obter o tempo de exposição necessário, o que significa que a imagem de Leuzinger não é uma imagem instantânea, mas sim uma impressão altamente composta. Se insistirmos em continuar a olhar para o passado através das lentes dos representantes coloniais, também teremos que aceitar os preconceitos e conceitos que essas imagens institucionalizam.
Se nossa intenção for realmente olhar para as pessoas escravizadas representadas ali, nosso olhar não pode deixar de conter o entendimento daquilo que nos pedem que testemunhemos. Portanto, no mínimo, temos que pensar em modos de subverter a lógica representacional investida no imaginário topográfico (a visão geral) que estendia a “autoridade soberana” da fazenda como um “sistema de vigilância visualizada”.9 Por exemplo, podemos oferecer gestos (gestos leves) do presente para o passado que sinalizem como reconhecemos presença, espírito e sentimento em imagens veladas, embora nossa atenção tenha que ser contextualizada. Este trabalho é uma questão de ética, justiça e cuidado representacionais. E se, então, lêssemos ou ouvíssemos a fotografia de Leuzinger habitando o olhar (ou a posição corporal) dos retratados?10 Como veem e sentem esses afro-brasileiros? Café. Mãos. Terra. Pés. Luz. Lente da câmera. Paisagem interna. Certamente esta sim é a verdadeira descrição dessa fotografia? Café. Mãos. Terra. Pés. Luz. Lente da câmera. Paisagem interna.
Temi Odumosu é historiadora da arte, educadora criativa e curadora de origem britânica e nigeriana que trabalha na Universidade de Malmö, na Suécia. Ela é autora do livro Africans in English Caricature 1769-1819: Black Jokes, White Humour [Africanos na Caricatura Inglesa 1769-1819: Piadas Negras, Humor Branco], publicado pela editora Brepols (2017). Sua pesquisa internacional e sua prática curatorial lidam com a política visual e afetiva da escravidão e do colonialismo, bem como com a estética da diáspora africana, a práxis decolonial, as reencenações de arquivo, as estratégias críticas de digitalização e, de maneira mais ampla, examina maneiras em como a arte é capaz de mediar a transformação social e processos de cura. Suas intervenções curatoriais recentes na Escandinávia incluem What Lies Unspoken: Sounding the colonial archive (Galeria Nacional e Biblioteca Real da Dinamarca, 2017-2018); Milk & Honey (Botkyrka Konsthall, Suécia, 2017) e Possession: Art, Power & Black Womanhood (New Shelter Plan, Dinamarca, 2014). A pesquisa de Temi Odumosu é, atualmente, financiada pelo Riksbankens Jubileumsfond na Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Malmö.
NOTAS
1 GORDON, Avery. Ghostly Matters: Haunting and the Sociological Imagination. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2008, p. 64.
2 Esta frase foi inspirada no ensaio de TUCK, Eve. Suspending Damage: A Letter to Communities. Harvard Educational Review, v. 79, nº 3, 409-27, 2009.
3 Frantz Fanon escreveu evocativamente sobre a tensão muscular nos corpos de pessoas oprimidas. Ver FRANTZ, Fanon. The Wretched of the Earth. New York: Grove Press, 1963, p.53.
4 Para uma extraordinária teorização do conceito de “rastros”, ver SHARPE, Christina. In the Wake: On Blackness and Being. London: Duke University Press, 2016.
5 Ver CAMPT, Tina M. Listening to Images. Durham; London: Duke University Press, 2017, p. 49-60. Ao escrever sobre um conjunto de retratos etnográficos de sul-africanos dos anos 1890, Campt teoriza e descreve de maneira convincente a sua “estase” como uma tensão que mostra “um esforçado equilíbrio de compulsão, restrição e recusa” (p.57). Ver também SEKULA, Allan. The Body and the Archive. October, 39, Winter, 1986, p. 7. Sekula argumenta que qualquer fotografia concebida para identificar um “alvo”, tais como perspectivas aéreas militares ou retratos criminais, são “produzidas, literalmente, para facilitar a detenção do retratado”.
6 Olhar é algo doloroso e também é político. No contexto do Holocausto (com várias posições bem argumentadas sobre esse assunto), ver CRANE, Susan A. Choosing Not to Look: Representation, Repatriation, and Holocaust Atrocity Photography. History and Theory, v. 47, nº 3, 309-30, 2008. Crane usa a recusa do olhar para perguntar de forma crítica: “Para as vítimas sobreviventes do Holocausto as atrocidades não acabaram, mas persistem na memória corporal e no trauma psíquico. Se a dor perdura nas pessoas, podem as fotografias tiradas contra a sua vontade algum dia serem vistas a não ser pelo prisma do olhar nazista?” (p. 321).
7 HARRIS-PERRY, Melissa V. Sister Citizen: Shame, Stereotypes, and Black Women in America. New Haven: Yale University Press, 2011, p. 29.
8 Para uma discussão sobre o ponto de vista imperial clássico, ver a seção de Derrick Price sobre “fotografia no colonialismo”, em WELLS, Liz. Ed. Photography: A Critical Introduction. London: Routledge, 2004, p. 82-6.
9 MIRZOEFF, Nicholas. The Right to Look: A Counterhistory of Visuality. North Carolina: Duke University Press, 2011, p.10.
10 CAMPT, 2017, p. 42. Campt escreve que “ouvir exige uma sintonia com frequências sônicas de afeto e impacto. É uma combinação de ver, sentir, ser afetado, contatado e movido para além da distância da visão e do observador”.