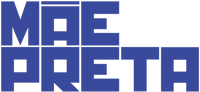Lilia Moritz Schwarcz | Historiadora e Antropóloga |
Registros sobre a existência de escravizados e escravizadas em São Paulo remontam aos primórdios da colonização. Nos séculos XVI e XVII, e na maior parte do XVIII, a presença de africanos era basicamente inexpressiva, sobretudo devido à prática da policultura voltada para a subsistência, largamente baseada na mão de obra indígena. A divisão era tão marcada que esses últimos eram conhecidos como “negros da terra”, enquanto que os africanos eram denominados “negros da Guiné” ou “negros d’Angola”.
A Capitania de São Vicente, na década de 1540, chegou até a importar escravos da Guiné para complementar o trabalho indígena utilizado na produção açucareira. Diante da competição com a grande lavoura de Pernambuco e da Bahia, porém, a presença de escravizados na capital paulista continuou discreta.
Segundo dados da época, em 1765 a população total de São Paulo era de 20.873 pessoas, das quais 5.988 eram escravos, ou seja, 28,6%, taxa que não variou muito durante todo o período setecentista. Tomando como base os 3.398 registros de óbitos localizados no Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo, nesse mesmo contexto, pode-se afirmar que 489 cativos falecidos na capital da Província e arredores foram identificados como “escravos provenientes da Guiné”, local de onde vieram, aliás, a maior parte dos africanos locais.
De toda maneira, o certo é que, nesse momento, São Paulo era antes lugar de passagem; não de pouso e parada. Na primeira metade do século XVIII, a maior parte dos africanos registrados na Província tinham como direção as minas das Gerais, o Mato Grosso ou Goiás. Foi só a partir da segunda metade do século XVIII que a população escravizada contou com um aumento significativo, sobretudo por conta do refluxo da economia mineradora.
A Província continuava praticando, no entanto, uma economia agroexportadora incipiente, o que fazia dela um local pouco interessante para os comerciantes negreiros. São Paulo guardava fama de ser um reduto organizado na base de sítios e chácaras, que eram mantidos com um número reduzido de cativos, em geral ocupados na produção de alimentos. E, seja na cidade, seja em seus arredores, a maioria dos senhores possuía poucos escravos, numa conformação típica desse período paulistano de transição para a grande propriedade exportadora.
E se a escravidão urbana de São Paulo ganhou certa importância no início do XIX, logo refluiu, após o final do tráfico, em 1850, quando a alta dos preços fez com que os cativos fossem todos drenados para a lavoura cafeeira. Isso sem esquecer que, na década de 1870, tomaram força uma série de movimentos abolicionistas que fizeram da capital paulistana um verdadeiro inferno para os senhores, e uma alternativa para os escravizados e escravizadas fugidos, que acabavam encontrando refúgio por lá.
Com essa conformação especial, disseminou-se a escravidão por ganho ou aluguel. Os escravizados de ganho eram aqueles que partiam para as ruas em busca dos ganhos de cada dia, prestando contas a seu senhor ou sua senhora no final da jornada. A dinâmica desse tipo de trabalho criou, porém, uma categoria bastante autônoma, já que a mão de obra era empregada a curto prazo e andava basicamente livre pelas ruas. Isso sem esquecer das demais profissões, com os cativos sendo empregados como ferreiros, carregadores, pedreiros, barbeiros, sapateiros, alfaiates, quitandeiras, curandeiros ou em manufaturas.
O certo é que, diferentemente de outras grandes “cidades negras” que foram se formando durante a vigência do sistema escravocrata, em São Paulo a escravidão urbana ficou caracterizada por seus núcleos de pequenas posses, tendo como chefes de foros viúvas, mulheres solteiras e famílias de poucas posses. Além do mais, a cidade acompanhou a tendência geral de “criolização”, tanto por conta da reprodução natural positiva, como devido à dificuldade dos proprietários de comprar mais cativos, a essas alturas muito valorizados como mão de obra. Assim, se nas grandes propriedades cafeeiras havia alta concentração de mão de obra escravizada, na cidade o número destes por casa não passava de cinco. Já o proprietário típico era aquele que possuía apenas um escravo.
Mas é preciso sublinhar uma especificidade: nesses pequenos plantios, a grande maioria dos empregados eram mulheres e crianças. Essa característica se explica por conta do menor poder aquisitivo da população paulistana, que optava por escravizadas e crianças, adquiridas por um preço menor no mercado. E, como se pode imaginar, a grande maioria dessas cativas era drenada para os trabalhos domésticos, e sujeita, igualmente, a tratamentos muito degradantes.
Ou seja, por um lado, muitas cativas trabalhavam como vendedoras de produtos de pequeno valor – ovos, toucinho, peixe fresco, farinha, queijo, hortaliças –, sobretudo na rua da Quitanda, na Ladeira do Carmo, na rua do Cotovelo, nos arredores do Juquery, no Anhangabaú e na Luz. Eram as famosas quitandeiras, que passavam o dia em suas barracas ou saíam vendendo seus produtos de casa em casa.
De outro lado, porém, se o universo de funções era amplo, as pesquisas vêm mostrando como uma das funções mais demandadas era a de ama de leite. Anúncios de aluguel e de venda abundavam nos jornais paulistanos de então, revelando essa face da escravidão, tão explorada
no imaginário de época. As amas representariam, ao menos nas narrativas oficiais, a imagem mais “romântica” da escravidão, uma vez que, de forma dadivosa, “ofereciam” seu leite ao pequeno senhor ou senhora, brancos.
A ideia de bondade e abnegação se vinculou a essas serviçais sem que se anotasse o mundo de vexações que a função exigia. Em primeiro lugar, nesse tipo de iconografia, falta sempre uma pessoa na representação: o filho da escravizada, deixado na roda dos expostos ou, com sorte, cuidado por uma amiga mais velha, essa sim dadivosa. Além do mais, ao observar essas fotos, pouco se indaga acerca de quem deveria estar postado bem à frente das amas, no momento em que a fotografia era tirada; em geral seus proprietários, que exigiam que elas segurassem seus filhos com força, para garantir que a foto não saísse tremida. Por fim, é possível dizer que, ao menos formalmente, elas estavam incluídas nas fotos apenas como figurantes, e não como personagens. Afinal, na imensa maioria dos casos, não se conhece a identidade dessas senhoras, que aparecem nas imagens exclusivamente cumprindo seu papel; elas são amas negras. Nesta circunstância precisa, o momento da foto, a identidade dessas escravizadas vem apenas da relação: do lugar e da posição que ocupam na esfera doméstica.
Nessa verdadeira política visual, que opõe visibilidade a invisibilidade, é quase evidente a lógica que preside o conjunto destes documentos. De um lado estão os pequenos amos e amas; de outro, suas escravizadas. As crianças têm seu nome e sobrenome cuidadosamente anotados, e encarnam o futuro das famílias que orgulhosamente representam nas fotos. Já suas amas são apenas amas: um rosto, um corpo, um traje, um adereço, ou até mesmo um suporte para conter as crianças e garantir o sucesso da foto.
De tão reiteradas, as fotos de amas acabaram por conformar um modelo, uma espécie de convenção visual sempre presente nos países escravocratas americanos e caribenhos que tomaram parte desta que foi a maior diáspora dos tempos modernos. E seu papel era estratégico: essas fotos de duplas que diferiam na origem, na condição social e na cor conformaram uma espécie de orquestração romântica da escravidão africana, como se um sistema que supõe a posse de uma pessoa por outra pudesse ser definido como romântico…
Por isso mesmo, elas guardaram uma relação ambivalente com a realidade que pretendiam representar. Se, no momento de sua realização, esse tipo de documento visual cumpria papel exemplar – ou ao menos não deveria gerar qualquer mal-estar diante da violência assim naturalizada –, no tempo presente essas imagens causam um grande incômodo. Incômodo diante da patente desigualdade da situação, da artificialidade da cena e, ao mesmo tempo, da certeza de que essas senhoras existiram no passado, e que a única forma de lembrar delas é anotando suas expressões, seus pequenos gestos, os detalhes inscritos em seus corpos.
E é justamente essa forma ambígua e proteica que vale explorar aqui. Se existia afeto ou revolta entre a ama e seu pequeno senhor, não há como saber. Com certeza havia afeto e revolta, afeto com revolta diante de situações que deveriam simbolizar uma relação afetiva, mas que, paradoxalmente, demonstravam as contradições de um sistema marcado pela violência e pela afirmação da hierarquia estrita.
Diz o antropólogo Didier Fassin que, exposto a determinadas situações, “o corpo lembra”; ou seja, reage diante de ocasiões que lhe recordam o trauma, a violência e, no caso dessas mães, a separação de seus filhos.1 Marcel Mauss, em ensaio hoje clássico, revela como todos nós praticamos técnicas corporais que compõem gramáticas tão legíveis como aquelas que são escritas.2 Ademais, da repetição basicamente idêntica desse gênero de fotografia vem a sensação de um catálogo de amas, ou mesmo a certeza da tensão que a fotografia criava e cria entre sujeito e objeto.3
Nessas fotos, hoje perdidas no passado, os corpos das amas parecem dizer muito a respeito do presente. Elas recontam, a seu modo, a história de um país que não escapa da sina de ter sido o último a abolir a escravidão mercantil no Ocidente, e de ter recebido mais de 45% dos africanos e africanas que foram retirados forçadamente de suas nações. Por isso, essas imagens parecem-se um pouco com fantasmas; carregam com elas a assombração de revelar que o presente anda mesmo lotado de passado.
Lilia Moritz Schwarcz é professora-titular no Departamento de Antropologia da USP. Foi professora-visitante em Oxford, Leiden, Brown, Columbia e é global scholar em Princeton desde 2010. É autora, entre outros, de Retrato em branco e negro (Companhia das Letras, 1987), O espetáculo das raças (Companhia das Letras, 1993; Farrar Strauss & Giroux, 1999), Racismo no Brasil (Publifolha, 2001), O sol do Brasil (Companhia das Letras, 2008), Brasil: uma biografia, com Heloisa Murgel Starling (Companhia das Letras, 2015) e Lima Barreto triste visionário (Companhia das Letras, 2017). Coordenou diversos volumes e publicou artigos diversos em co-autoria com Lucia Stumpf e Carlos Lima, Adriano Pedrosa, Adriana Varejão, e Flávio Gomes, entre outros. Foi curadora de diversas exposições como A longa viagem da biblioteca dos reis (Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, 2002), Nicolas-Antoine Taunay e seus trópicos tristes (Museu de Belas Artes do Rio de Janeiro e Pinacoteca do Estado de São Paulo, 2008) e Traições: Nelson Leirner leitor de si e leitor dos outros (Galeria Vermelho, São Paulo, 2015) e mais recentemente foi co-curadora de Histórias mestiças (Instituto Tomie Ohtake, 2015), Histórias da infância (MASP, 2016), Histórias da sexualidade (MASP, 2017) e Histórias Afro-Atlânticas (MASP/Instituto Tomie Ohtake, 2018). É curadora-adjunta para histórias e narrativas do MASP e colunista do jornal Nexo.
NOTAS
1 Didier Fassin, Enforcing order. An ethnography of urban policing. Nova York: John Wiley & Sons, 2013.
2 Marcel Mauss, “As técnicas corporais”. In Ensaio sobre a dádiva. São Paulo: Cosac & Naify, 2013.
3 Allan Sekula, “The Body and the Archive”. In October 39, 1986, pp.3-64.